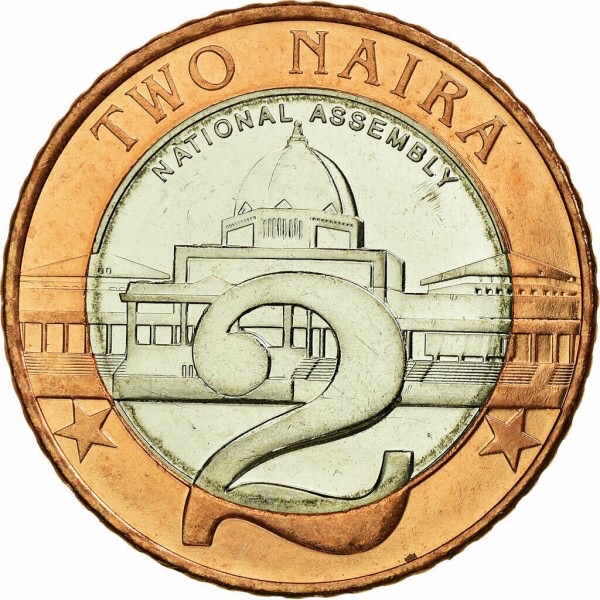(Lisboa, primavera)

Foi num desses dias que parecem não pertencer mais à primavera, mas que ainda não se reconhecem como verão. Um entretempo. Uma vibração que começa a se insinuar na pele e nos passos das pessoas na rua. Lisboa começa a se oferecer de outro modo: mais aberta, mais morna, como se já tivesse esquecido os meses de frio. O festival acontecia ali, no meio desse deslocamento de estação, como se também ele anunciasse o que ainda não chegou. E se chamava Coala, nome de bicho terno, sim, mas que aqui abrigava outra coisa: uma festa de gente que canta, dança e carrega no corpo a história inteira da sua identidade e do seu povo.
Foi nesse espaço que a presença se impôs como experiência e não como conceito. E eu insisto: presença, e não apenas o “ao vivo”. Porque o ao vivo já não basta. O ao vivo pode ser um evento transmitido em tempo real, pode ser um story, pode ser o direto de um ecrã. Mas a presença — essa coisa que escapa à mediação, ainda exige mais: exige o corpo ali. Exige tempo espesso. Exige atenção. Exige, sobretudo, risco.
E então surge a voz, o corpo e a luz. Ney Matogrosso, no auge do seus 82, no palco, com um figurino que lhe cobria todo o corpo de cristais e pedras que reluziam, e não na tela era isso: um choque de presença. Um estremecimento. Um gesto de interrupção na lógica contínua da imagem. Não se tratava de assistir a Ney. Tratava-se de estar com ele, num mesmo tempo, num mesmo espaço. Sentir que aquilo não se repetiria, que não havia replay, que cada gesto seu, o timbre, a dança, o silêncio entre uma música e outra, estava acontecendo agora, e apenas agora. Não que eu sempre tivesse sido um fã inveterado pelo Ney, embora já tive a glória da oportunidade de assistir outros artistas mais admirados por mim , dos tropicalistas à velha guarda do samba e da bossa. Mas a comoção pela presença rara daquele grande artista me fez sentir e observar aquele momento com um sabor especial.
Philip Auslander já nos alertava, ainda em 1999, que a distinção entre o “ao vivo” e o “mediatizado” é, no fundo, uma construção cultural. Em Liveness, ele mostra como mesmo os eventos presenciais são atravessados por lógicas da reprodução: há um imaginário midiático que estrutura o que esperamos ver, como esperamos reagir, como devemos nos comover. É verdade. Mas há algo mais. Algo que não se reduz à oposição técnica entre o que é captado e o que é experienciado. Algo que não pode ser empacotado. Aquilo que se esgota no instante, mas que deixa em nós um rastro inapagável.
Essa coisa, difícil de nomear, talvez se aproxime do que Agamben chamou de kairos: o tempo oportuno, o instante carregado de potência. O tempo que não é cronológico, mas existencial. Viver um tempo fora do tempo. Um tempo contra a aceleração. Contra o consumo. Um tempo espesso como um corpo, como uma nota que se sustenta por mais do que devia. O tempo da suspensão.
E havia também os outros. Os que estavam ao meu redor. Não como cenário, mas como extensão do próprio acontecimento. Vozes uníssonas, corpos bailando sem coreografia, mãos trêmulas segurando celulares que às vezes filmavam, mas logo desistiam. Porque filmar já não era suficiente. Porque o real, ali, se impunha como uma espécie de assombro calmo. Como se, de repente, todos estivéssemos reaprendendo a estar. Reaprendendo a ver — com os olhos todos, não só com a retina.
Walter Benjamin, quando pensa na aura da obra de arte, diz que ela se ancora justamente nesse aqui e agora, nesse encontro irrepetível entre espectador e objeto. Com a técnica, essa aura tenderia a desaparecer. Mas talvez ela não tenha sumido: talvez só tenha se escondido. A aura, hoje, precisa ser buscada com mais esforço. Como nos momentos em que Ney estendia os braços e o público respondendo não com gritos, mas com um silêncio mineral antes da ovação, não era sobre ele. Era sobre nós. Sobre o fato de estarmos ali. Sobre a nossa rara disposição para o agora.
Num mundo orientado pela velocidade, pela repetição e pelo arquivo, a presença é resistência. Assistir é um ato político. Estar é quase uma revolução.
Mas o que é estar, afinal, num tempo que exige prova constante da existência? O que é viver, se viver não basta, se é preciso registrar, publicar, partilhar, legendar? O que é a experiência, se ela precisa ser moldada à gramática da visibilidade para ser validada como real?
Vivemos o tempo do pós-digital, como definem alguns pensadores: um tempo em que o digital não é mais novidade nem exceção, mas a regra silenciosa que molda nossa percepção do mundo. Tudo é tela. Tudo é dado. Tudo é potencialmente conteúdo. Não é só que “se não postou, não aconteceu”, é que, muitas vezes, só se vive para poder postar depois. A experiência é convertida em pré-experiência: é vivida já como representação. Isso não é culpa individual. É uma lógica. Um sistema de atenção. Um metabolismo da imagem.
E é por isso que momentos como aquele, uma noite qualquer, no meio de Lisboa, no início ainda vacilante de um verão, são mais do que bonitos. São raros. São contrafluxo. São brechas num presente programado. São os poucos instantes em que o tempo não se comprime em cliques, e onde o real ainda pode ser mais do que um arquivo: pode ser respiração, pode ser encontro, pode ser susto, pode ser presença.
E eu diria mais: são resistência.
Resistência contra a ordem da produtividade, da monetização da atenção, da aceleração contínua. Porque estar parado ali, apenas estar, sem pressa de sair, sem ansiedade de registrar, sem expectativa de “aproveitar melhor” o tempo; era, naquele momento, um gesto radical. Um ato de desvio.
Estamos numa era marcada não pela escassez de tempo, mas pela sua dispersão. O tempo já não se organiza em narrativas, ele se esfarela em episódios, em interrupções, em cortes e notificações. Vivemos em uma “crise temporal” onde tudo acontece ao mesmo tempo e nada realmente acontece. Porque o tempo, quando não é vivido, se configura apenas como passagem.
Por isso, parar, como se para respirar de dentro da própria experiência; é resistência. Resistência contra a lógica da performance contínua, contra a hiperconectividade que fragmenta, contra a obrigação de estar sempre atento e disponível. Parar ali, de pé, entre outros corpos, sem tarefa, sem meta, apenas entregue ao som de “Jurei mentiras e sigo sozinho..”, à dança de Ney, ao brilho de Ney, à alguém ao lado, ao suor que escorria na pele — era um gesto mínimo, mas profundo. Um gesto que dizia: agora não. Agora é só agora.
Na lógica da economia da atenção, toda experiência precisa render algo: um clique, um dado, um resultado. A contemplação, esse tempo silencioso, sem retorno imediato, é considerada inútil. Mas é justamente nesse espaço do inútil, do improdutivo, que o real se manifesta com mais força. A experiência não precisa servir para nada. Ela só precisa ser.
É por isso que aqueles instantes, naquele festival, naquela Lisboa expandida pela estação e pelo afeto, não foram apenas bonitos ou comoventes. Foram acontecimentos de mundo. Frestas num cotidiano excessivamente legível. Pequenas anomalias onde a vida reaparece, não como conteúdo, mas como presença. Como afirmação de que o real ainda pode ser vivido sem ser capturado. Sem ser traduzido. Sem ser vendido.
E talvez a tarefa seja essa: restituir espessura ao tempo. Devolver ao agora a densidade que lhe foi roubada. Reconhecer que estar num instante, inteiro, sem desejo de ir embora, é o contrário da pressa e o oposto da distração. É um ato de escolha. E de coragem.
Porque enquanto tudo nos empurra para o depois, a presença nos devolve ao agora. E isso, hoje, é um gesto profundamente político. Se o tempo verdadeiro é aquele que suspende a norma, então talvez a única forma de resistir ao tempo acelerado e opaco do agora seja essa: encontrar o gesto que não se deixa capturar. A palavra que escapa à legenda. O olhar que não busca uma boa imagem, mas apenas vê. A vida, nesse instante, não era conteúdo.
Era acontecimento.