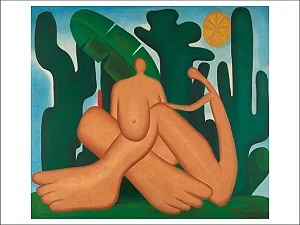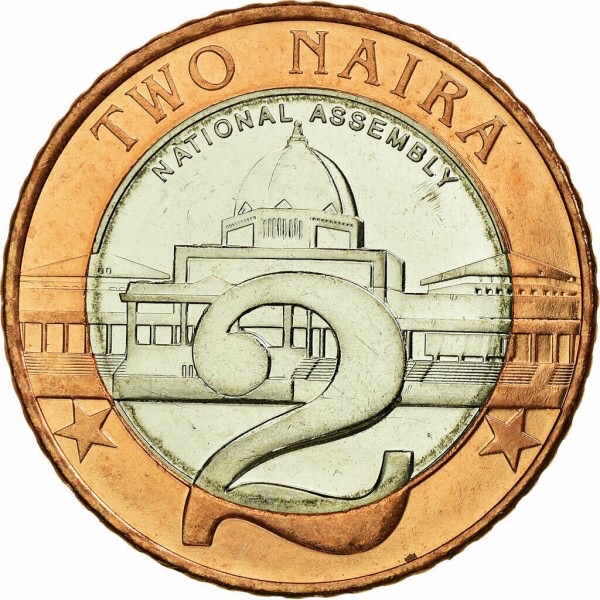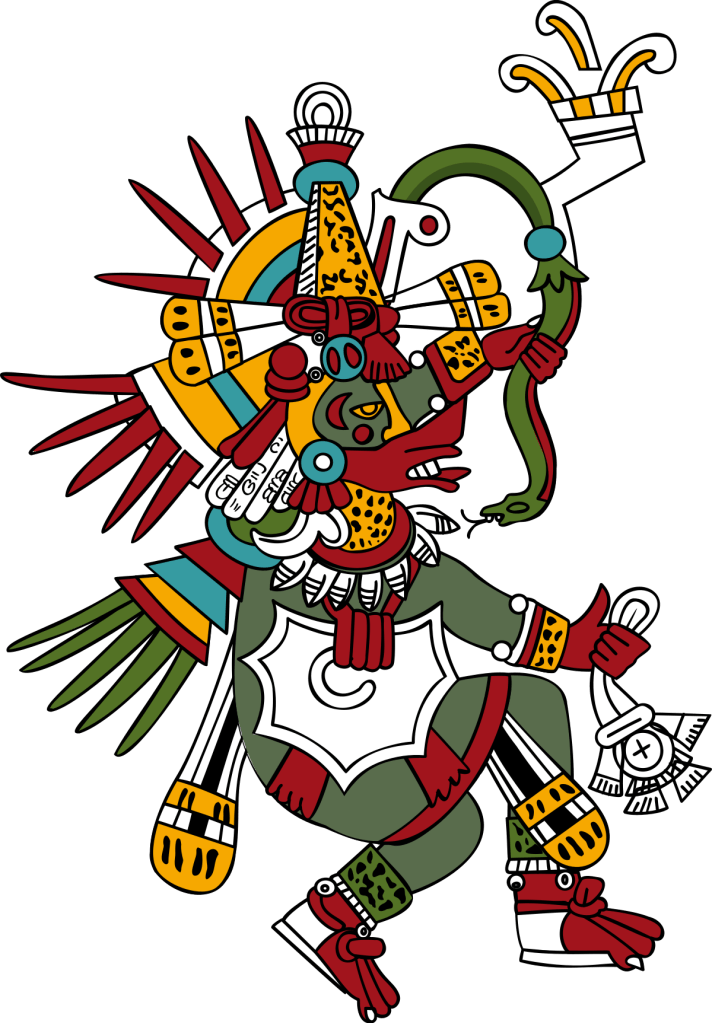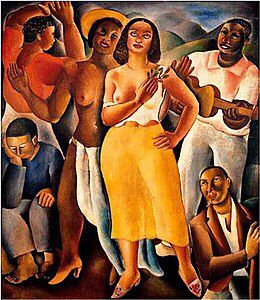Nos últimos tempos virou moda declarar guerra. Não a guerra real, com exército, estratégia e campo de batalha, mas uma guerra conveniente, portátil, daquelas que cabem em qualquer discurso político. Uma guerra que você aciona quando quer justificar o injustificável, exagerar o moderado, inflamar o trivial e transformar qualquer contradição em ato de coragem patriótica.
Basta anunciar que estamos em guerra e, de repente, vale tudo. Vale mudar de opinião da noite para o dia, como quem troca de roupa no escuro. Vale se contradizer sem piscar, dizendo hoje o oposto do que foi dito ontem e prometendo amanhã o contrário do que foi prometido hoje. Vale acusar aliados antigos de traição súbita, como se lealdade tivesse prazo de validade. Vale atacar instituições inteiras sob o pretexto de que elas agora fazem parte do plano do inimigo. Vale reinventar fatos, reescrever acontecimentos e rebatizar versões, porque em tempos de guerra a narrativa importa mais do que a realidade. Vale transformar divergências em ameaças existenciais, tratados civis em capitulações vergonhosas, críticas legítimas em golpes imaginários. Vale transformar qualquer problema administrativo em conspiração e qualquer desacordo em tentativa de destruição da pátria. Vale fabricar um inimigo novo quando o antigo perde o efeito, seja um adversário político, a imprensa, o Supremo, o imigrante, a universidade, o vizinho barulhento ou qualquer entidade abstrata que renda um pouco de ódio e engajamento.
E o mais curioso é que essa guerra nem precisa de bombas. Ela vive de retórica bélica, de uma pitada de medo e de uma boa dose de urgência moral. É o suficiente para transformar a política em um videogame de sobrevivência. E se alguém pergunta se isso faz sentido, a resposta costuma ser simples. Não interessa. Estamos em guerra. É a carta universal. Serve para tudo e anula todo o resto.
Só que quando tudo é guerra, nada é política. Nada é conversa. Nada é negociação. Nada é comum. A democracia começa a tropeçar num cenário em que cada gesto é interpretado como ataque ou defesa. E aquilo que deveria ser a praça, espaço de encontro e convivência, acaba se transformando em uma trincheira disfarçada.
Às vezes me vejo tomado por uma sensação difícil de nomear, algo entre o espanto e o receio, quando observo o modo como certos movimentos políticos recentes parecem ganhar intensidade sem que percebamos claramente quando começaram ou para onde conduzem. O que me intriga é justamente essa zona nebulosa em que os processos se aceleram e mudam de grau, quase sempre de maneira silenciosa, até o ponto em que já não conseguimos identificar as fronteiras que antes nos serviam de orientação. Há momentos em que tenho a impressão de que atravessamos limites sem notar e, quando finalmente olhamos ao redor, a paisagem já não é a mesma. Essa experiência de estranhamento me leva a pensar na maneira como a política adota a lógica da guerra, porque muitas vezes esse deslizamento não acontece com um estrondo, mas com pequenos passos que, somados, transformam radicalmente o terreno onde caminhamos.
Há algo de inquietante na forma como a praça, esse espaço que abriga o encontro, a convivência e a conversa, parece hoje carregada por uma tensão quase bélica. A praça sempre foi o símbolo da vida comum. Lugar onde a cidade se reconhece, onde os conflitos encontram mediação, onde a política ganha corpo. No entanto, em muitos momentos do nosso presente, ela se vê transfigurada por uma lógica que lhe é estranha, como se um campo de batalha silencioso se instalasse ali, entre corpos que se olham não mais como cidadãos, mas como potenciais adversários. O território que antes servia para articular diferenças agora é atravessado por uma linguagem de hostilidade, alimentada por discursos que tratam a divergência como ameaça e a disputa como guerra. A praça resiste, mas a guerra simbólica insiste em ocupar seus contornos, até o ponto em que a política deixa de ser o gesto de formar um mundo comum e passa a ser a tentativa de defender trincheiras que mudam de lugar conforme o medo ou a retórica impõem seus mapas.
A reflexão sobre a política como espaço tensionado pela guerra não nasce no presente. Já na Antiguidade havia uma noção clara de que o poder se reorganiza quando a comunidade se sente sitiada. Cícero, por exemplo, no século I a.C., insistia que as leis existem para proteger a cidade tanto da violência externa quanto da sua própria desordem interna. Ao mesmo tempo, reconhecia algo que atravessa os séculos. Diante do perigo extremo, Roma recorria a mecanismos de exceção que concentravam poderes extraordinários nas mãos de um único magistrado. O ditador romano, figura que podia suspender decisões colegiadas e agir sem consulta prévia, era nomeado não porque Roma tivesse abandonado as leis, mas porque supostamente precisava preservá-las. A justificativa era sempre a mesma. A sobrevivência da cidade exigia uma suspensão temporária da normalidade.
Essa tensão entre normalidade e exceção reaparece nas narrativas de Tito Lívio, que no livro III da sua Ab Urbe Condita descreve como, em momentos de conflito interno ou ameaça estrangeira, Roma oscilava entre reorganizar-se institucionalmente ou entregar-se a um governo extraordinário que prometia restaurar a ordem. É interessante perceber como a retórica do perigo permanente se torna um instrumento de poder. O uso político do medo transforma-se em método de governo, algo que encontra eco perturbador na maneira como as sociedades modernas lidam com a ideia de ameaça.
Em situação de conflito extremo, as palavras perdem seu significado habitual e passam a designar o seu contrário. Coragem vira temeridade. Prudência vira covardia. Moderação vira fraqueza. A guerra, neste sentido, não é apenas um acontecimento externo, mas uma perturbação da própria vida política. Ela transforma o que se pode dizer, o que se pode fazer e o que se pode justificar.
A figura de Marco Antônio, especialmente quando aparece em Plutarco, também ajuda a compreender a dimensão teatral da guerra na política romana. Ele representa o político que transforma o conflito em identidade. Que constrói autoridade ao dramatizar o momento histórico e ao distribuir lealdades como se fossem armas. A guerra, nesse caso, não é apenas campo de batalha, mas narrativa. E a narrativa, uma vez assimilada pela política, tende a substituir o argumento pela urgência, o debate pela paixão, a lei pela exceção.
Esses autores, separados por séculos e contextos distintos, convergem em um ponto essencial. A guerra reorganiza o campo do possível. Suspende limites. Altera vocabulários. Transforma adversários em inimigos. Converte o medo em instrumento político. A modernidade inventou outras formas de nomear esses processos, mas a intuição fundamental já estava lá nos relatos dos antigos. Toda vez que uma comunidade se sente em estado de guerra, real ou simbólica, ela passa a admitir gestos que antes considerava intoleráveis. É nessa fronteira instável entre necessidade e abuso que a política começa a se confundir com exceção.
A palavra guerra carrega um peso que atravessa séculos e sociedades. No imaginário político contemporâneo ela reaparece de modo insistente e às vezes até banalizado, como se o vocabulário militar tivesse migrado para o centro da vida pública e tomado conta do modo como descrevemos os conflitos que atravessamos. Há algo de revelador nisso, sobretudo quando observamos o cenário brasileiro e seu estado persistente de polarização. A guerra se torna metáfora da política e, em certos casos, metáfora que opera quase como fato.
Quando um país entra realmente em guerra passa também a viver sob outra lógica jurídica e administrativa. Isso ficou claro em tantos episódios históricos e continua evidente em situações recentes, como a da Ucrânia. A normalidade é suspensa e abre-se um regime em que a sobrevivência do Estado se impõe às garantias ordinárias. No Brasil existe a figura da GLO, a Garantia da Lei e da Ordem, que já foi acionada diversas vezes em momentos considerados críticos – e que recentemente foi planejada como resposta ao resultado das eleições presidenciais (wtf!). Entre outras coisas, ela representa essa ideia de exceção jurídica e concede às Forças Armadas um papel que em tempos regulares não lhes pertence. Em Portugal, assim como no Brasil, existem mecanismos constitucionais como o Estado de Emergência ou o Estado de Sítio, que também pressupõem a suspensão temporária de certas garantias quando a ameaça é considerada grave. Cada país encontra sua forma de traduzir juridicamente a ideia de que, diante do colapso, tudo pode ser reorganizado para preservar o que resta do corpo político.
O problema começa quando esse raciocínio deixa de ser mecanismo de emergência e passa a ser adotado na política cotidiana. Quando a política se apropria da lógica da guerra, ela abandona o campo do desacordo mediado e se instala no terreno em que a exceção se normaliza. A guerra não tolera adversários. Tolera inimigos. A guerra não admite hesitação. E a política que se pensa em guerra acaba por assumir a mesma urgência que dispensa prudência, negociação e limites. Não se trata mais de convencer o outro, mas de derrotá-lo. Isso tem consequências profundas, porque dissolve a ideia de que a democracia é um regime de convivência entre diferenças.
A metáfora da guerra atua como um solvente que fragiliza a linguagem e os valores que sustentam o pacto democrático. Giorgio Agamben, em seu livro de 2003 sobre o estado de exceção, discute como os momentos em que a lei se suspende para salvar a ordem podem se tornar mecanismos permanentes de governo. Carl Schmitt, décadas antes, em 1932, já sublinhava que o núcleo do político seria a distinção entre amigo e inimigo. Quando essas ideias se deslocam para o cotidiano de um país polarizado, deixam de ser diagnósticos teóricos e passam a fornecer uma gramática pronta para justificar práticas que escapam do controle institucional e ético.
O mais inquietante é perceber como essa mentalidade afrouxa as amarras morais que antes delimitavam a ação política. Quando se entende que há uma guerra em curso, todas as contradições se tornam justificáveis. O político que defendia um conjunto de valores pode abandoná-los sem grande esforço porque a narrativa da guerra autoriza exceções contínuas. Michel Foucault, em suas aulas de 1976, chamou atenção para a ideia de que a política moderna frequentemente recupera formas de guerra ao gerir a vida e a morte das populações. Não se trata de um conflito armado, mas de um modo de organizar as relações de força que atravessam a sociedade. Quando esse modo de pensar se espalha, mesmo sem ser formalizado juridicamente, normaliza-se a percepção de que vivemos num campo de batalha permanente e, portanto, nenhuma regra se aplica de maneira estável.
Isso produz um ambiente em que a coerência se torna secundária e a fidelidade a um bloco político se sobrepõe à fidelidade a princípios. A política deixa de ser negociação e passa a ser sobrevivência. Quando tudo parece ameaçar o nosso lado, qualquer gesto se torna legítimo porque supostamente protege um bem maior. A ideia de bem maior, porém, raramente é definida com precisão e frequentemente se confunde com identidades frágeis que se sentem atacadas por discursos diferentes dos seus. Há uma dimensão emocional intensa que alimenta a metáfora da guerra, uma sensação de vulnerabilidade que transforma divergências em ameaças existenciais. Isso torna a sociedade mais disposta a aceitar discursos agressivos e procedimentos excepcionais como se fossem ferramentas necessárias e inevitáveis.
É justamente aí que reside o perigo. Quando a guerra deixa de ser um fato histórico e passa a ser um modo de compreender a política, os mecanismos de exceção deixam de ser raros e se tornam disponíveis a qualquer momento. A fronteira entre legalidade e arbitrariedade se desfaz. A fronteira entre o possível e o que deveria ser impossível se torna porosa. A democracia depende de limites e de rituais de contenção que a guerra desautoriza. Quando esses limites se fragilizam, a política se empobrece intelectualmente, moralmente e institucionalmente. Perde-se a capacidade de imaginar um futuro comum, porque a guerra não projeta convivência. Projeta vitória.
É nesse ponto que a imagem da praça retorna. A praça só existe enquanto espaço comum porque admite a imperfeição, o ruído, o desacordo e a presença de corpos distintos que precisam aprender a coexistir. Quando a lógica da guerra invade seus contornos, ela se estreita, se retrai e perde sua vocação de lugar aberto. A política, para reencontrar seu fôlego democrático, precisa devolver à praça esse caráter de arena compartilhada, onde divergências são possíveis e até necessárias, mas onde não se espera que ninguém entre armado, mesmo que apenas simbolicamente. O gesto inaugural da democracia é simples e profundo. Sentar-se na praça sem olhar o outro como ameaça. Se a guerra transforma a cidade num conjunto de trincheiras móveis, é a praça que devolve à cidade o sentido de comunidade. Talvez seja ali, nesse espaço que resiste apesar de tudo, que a política possa voltar a respirar fora da lógica do inimigo e reencontrar a possibilidade de construir um mundo comum.
A guerra, esta máquina, é ótima para discursos. Para as democracias, segue sendo um veneno lento. Portanto, a pergunta que resta é inevitável: por quanto tempo vamos bebê-lo como se fosse remédio?